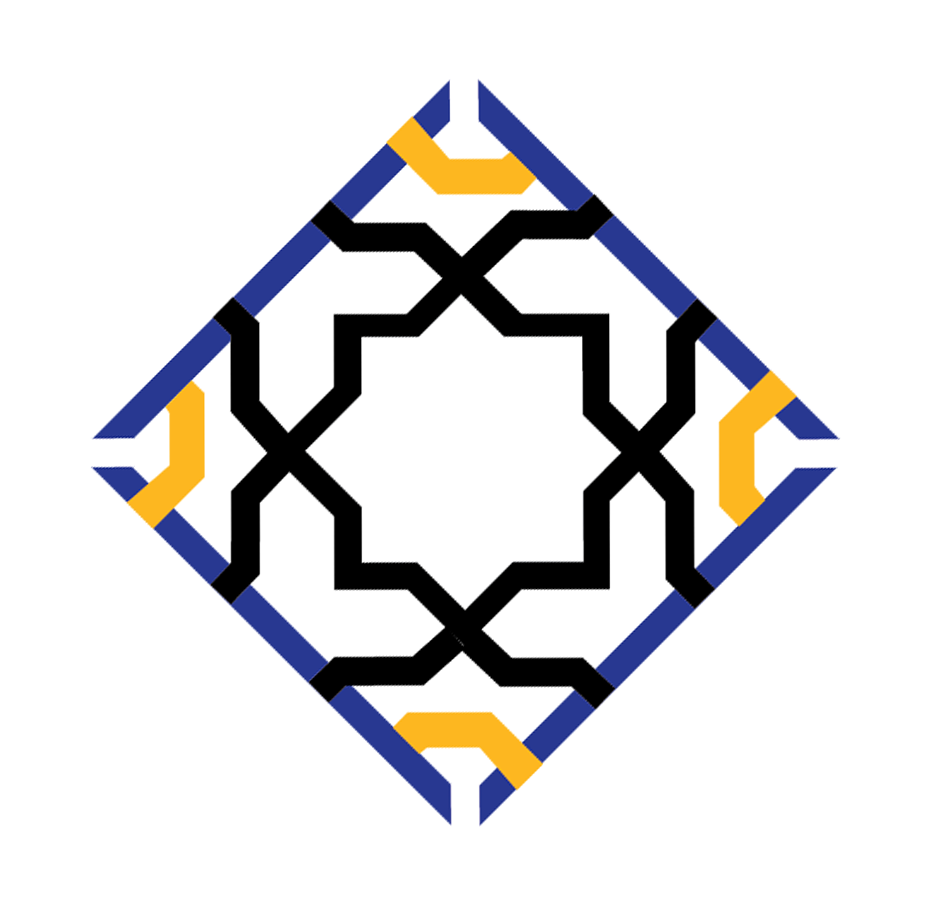Por JASON KEITH FERNANDES
(Conferencia organizada pela Nova Portugalidade, Casa de Sertã, Lisboa, 28 Março 2019)
Gostaria de começar por agradecer a Rafael Borges Pinto pelo convite para falar convosco hoje. Os meus agradecimentos também à Nova Portugalidade por organizar esta conversa e a todos pela vossa presença.
Há muitos que acham que a relação entre Portugal e Goa é uma coisa do passado. A primeira pergunta que muitos Portugueses da metrópole fazem quando encontram um Goês é se os Goeses ainda falam Português em Goa. A resposta é quase sempre negativa. Até recentemente a minha própria resposta era que o Português nunca foi uma língua popular em Goa, mas sim a língua das elites. Porém, a minha perspetiva mudou ao ouvir uma anedota num jantar aqui em Lisboa, onde se disse que a língua portuguesa foi efetivamente morta depois da anexação do território pela Índia. As pessoas vistas como “pró-Portugueses” foram perseguidas e os que falavam português faziam-no a medo. Esta minha nova perceção enquadrou a situação de maneira diferente e percebi que, dado os níveis crescentes de educação em Goa nos anos cinquenta, embora não haja qualquer dúvida que o idioma português foi sempre a língua das elites, é possível que a língua portuguesa fosse mais falada em Goa se continuasse ser a língua da instrução nas escolas primárias do Estado. Infelizmente, essa possibilidade foi morta também, e apesar das valiosas tentativas realizadas em Goa por instituições como a Fundação Oriente ou o Instituto Camões – e devo salientar os esforços do Diretor do Instituto Camões em Goa, Delfim Correia, neste sentido – e um aumento do interesse na língua, há ainda alguma animosidade contra o português em Goa.

Quero com isto dizer que qualquer avaliação da relação entre Goa e a língua portuguesa precisa de reconhecer a animosidade tanto do estado indiano como do nacionalismo indiano. Qualquer tentativa duma relação indo-portuguesa, ou luso-goesa que não reconheça este facto seria um desperdício de energia. Avancei este argumento há uns meses atrás quando critiquei a visita do Primeiro Ministro António Costa a Índia, que foi motivado, pelo o que percebi, pela vontade de abrir os mercados indianos aos interesses comerciais e à indústria portuguesa. Embora não haja um problema com estas iniciativas, a tragédia desta estratégia prende-se com a minimização de Goa na relação de Portugal com a Índia. Isto não é uma surpresa, pois pelo que percebi existe um forte lobby dentro da Ministério dos Negócios Estrangeiros que insiste em considerar Goa como sendo um risco para Portugal. Dizem que Goa ficou no passado e que agora importa construir uma nova relação com Índia.
Não vejo qualquer problema em criar uma nova relação com a Índia. O problema é que os Portugueses continuam a ser representados pelo nacionalismo indiano, como sendo indivíduos tiranos, fanáticos, e esta imagem é frequentemente repetida em filmes e debates populares. Assim, se desconsiderarmos esta imagem, as intervenções na Índia encontram-se sempre debaixo de uma espada de Dâmocles, porque sempre que existe espaço para equívocos, vão aparecer ao mesmo estereótipos a prejudicar investimentos e intervenções portuguesas na Índia.
Retornando ao assunto da língua portuguesa, embora reconheça a importância da mesma no desenvolvimento de uma relação entre Goa e Portugal, tenho que confessar que não subscrevo a famosa frase de Pessoa “A minha pátria é a língua portuguesa”. Isto é, não creio que possamos reduzir a identidade portuguesa ao conhecimento de, ou ao amor pela língua portuguesa. Nos últimos anos, já ouvi vários diplomatas portugueses, entre outros, indicar a sua hostilidade face à ideia de que os Goeses têm o direito à cidadania portuguesa. Estes diplomatas defendem que os Goeses que não sabem a língua nem a história do Portugal, não têm também, dizem estes diplomatas, amor pela pátria portuguesa.
Demasiadas vezes, a portugalidade é reduzida pelos Portugueses da metrópole a monumentos e artefactos, esquecendo que as pessoas também são produtos da expansão portuguesa. Afinal, não havia Goa, nem uma identidade Goesa, sem a intervenção portuguesa, e por isso, os Goeses também estão a produzir Portugal, sendo eles reconhecidos por isso ou não. Várias pessoas em Goa são portuguesas, independente do facto de conhecerem o idioma ou não. Sabem os detalhes da História portuguesa ou não. São Portugueses porque a lei reconhece o seu direito à nacionalidade portuguesa, uma lei – é preciso dizer – que tem séculos de operação. Muitas vezes quando os metropolitanos me perguntam se ainda há uma presença portuguesa em Goa, respondo dizendo que sou filho do José Manuel Fernandes e da Filomena Dulcine Goveas! Sou a presença portuguesa em carne e osso.!” E tal como eu há milhares de pessoas que produzem uma portugalidade através dos seus nomes e das suas atividades diárias.
Falando do peso da História, não é apenas Portugal que assume uma posição crítica face a Goa, mas Goa também é crítica de Portugal através da construção da identidade portuguesa desde os tempos da expansão. É impossível escrever uma história portuguesa hoje, sem falar sobre o papel de Goa e dos Goeses. Os Goeses são Portugueses apesar de não falarem português, porque a sua portugalidade está embutida no mero facto de que eles já fizeram parte do império português e Portugal marca a sua vida quotidiana, tal como Goa marca as vidas diárias dos Portugueses da metrópole – quer eles reconheçam este facto ou não.
Tomem, como exemplo, o argumento que desenvolvi recentemente, que Luís de Camões enquanto português sem dúvida, é também, e notem que digo é, não era, Goês. Ele é Goês porque, como Landeg White, tradutor de Camões disse na introdução do seu livro Camões: Made in Goa (2017), a sua poesia foi escrita em Goa, foi marcada pela sua presença naquele lugar tropical, e o espaço está interligado com a sua poesia. Sem Goa não haveria Camões e sem Camões não existiriam os Lusíadas.
O assunto da centralidade da língua portuguesa não é somente um assunto retórico, mas sim prático, porque envolve o destino dos milhares de Goeses com nacionalidade portuguesa no Reino Unido. O estado obrigado a assegurar os seus interesses é o português, e dado que muitos destes cidadãos não falam português, incumbe ao estado – como seria a obrigação de qualquer estado nesta posição -, de falar aos seus cidadãos na língua que eles percebem melhor. Isto não é para negar que a língua portuguesa tem uma relação especial com o estado português, e que estes Goeses idealmente devam começar a aprender a língua, como tenho certeza que as próximas gerações vão fazê-lo. Mas o estado português não pode recusar a sua responsabilidade argumentando que estes cidadãos não falam português. De facto, poderia argumentar-se que estes Goeses não falam português devido a falhas históricas do estado português e, em particular, da maneira como a presença portuguesa em Goa foi sustentada com a cooperação das elites das castas altas entre os Católicos, Muçulmanos e Hindus.
Não sou entre aqueles que acreditam numa política apologética, mas a justiça pós-colonial, especialmente quando estas pessoas são cidadãs do estado português, obriga a que Portugal reconheça a violência estrutural de casta e trabalhe sobre a capacitação destes cidadãos. Falando na sua língua para que eles percebam deveria fazer parte deste processo da capacitação, ajudando-os realizar a sua portugalidade. Devo dizer que através deste processo, as línguas que o estado Português utiliza, como neste caso a língua Concanim, também a torna deste modo numa língua de Portugal. Por exemplo, Marata, uma outra língua goesa importante, foi utilizada no Boletim do Governo do Estado da Índia para comunicar com aqueles que não podiam falar nem ler português.
O debate da cidadania portuguesa dos Goeses levanta também um assunto que é fundamental no caso de Goa e de Portugal. Quando o estado português eventualmente reconheceu a soberania indiana sobre Goa no rescaldo do 25 de Abril, foi também reconhecido o facto que os Goeses continuariam a ter direito à cidadania portuguesa. O estado indiano, porém, tinha efetivamente negado aos Goeses o seu direito à cidadania portuguesa, tentando assim impor-lhes a cidadania indiana. Para os Indianos, os cidadãos indianos não podem assumir duas nacionalidades. Portanto, os Goeses tiveram que escolher entre a nacionalidade portuguesa ou a indiana. No momento em que os Goeses afirmaram a sua cidadania portuguesa, eles perderam não somente o direito da participar nas eleições em Goa, mas também enfrentaram vários impedimentos, legais, e considerando que estamos a sofrer um momento intenso de nacionalismo Hindu, extralegais também.
O estado indiano não percebe, ou não quer perceber, que os Goeses não estão a adquirir uma nova nacionalidade quando afirmam a portuguesa. Este foi um direito que tiveram quando a Índia anexou Goa, e continuam a ter, e que o direito da cidadania é fundamental para os direitos humanos. Assim, o estado indiano não pode obrigar os Goeses a abandonar o seu direito da cidadania caso estes optem por afirmar os seus direitos através da cidadania portuguesa. Fazer isto é adotar efetivamente uma presença colonial em Goa. A resolução deste problema, que é fundamental para uma continuada e saudável relação entre Goa e Portugal, deve ser um assunto para o estado português tratar, porque implica não somente as obrigações de Portugal enquanto país descolonizador, mas no fim do dia, implica os direitos dos cidadãos portugueses. Dado que Portugal interveio no caso do Timor Leste, não percebo porque é que essa privação do direito por um poder colonial não está a ser considerado neste caso. Demasiadas vezes, os Goeses, que continuam a ser cidadãos portugueses, não são reconhecidos como tal pelo estado português.
As razões para esse problema encontram-se escondidas na estruturação da retórica portuguesa depois da Revolução dos Cravos, a qual envolve uma simples inversão da retórica do Estado Novo. Assim, como o Estado Novo sugeriu que todas as pessoas no estado português seriam Portugueses, a posição agora é para acriticamente afirmar que as pessoas nas antigas províncias ultramarinas são estrangeiras. Recordo que há alguns anos atrás, quando comecei a pensar sobre estas ideias, e afirmava que era português, os meus amigos bem-intencionados de esquerda diziam condescendentemente, “Mas porque queres ser Português? És Goês, és Indiano!”.
Ora, também não estou a afirmar que todos os Goeses têm que necessariamente sentir que são Portugueses. Se se querem sentir apenas Goeses, ou mesmo Indianos, então é esse o seu direito. Porem, se me sinto Goês, Sul-Asiático e Português, porque tenho os metropolitanos a dizerem-me que não o sou? Porquê a presunção de que sou um defensor do Estado Novo ou de que estou preso num túnel do tempo? De facto, estas respostas dos metropolitanos evidenciam um pensamento racista porque deixa o metropolitano decidir quem é Português, e quem o não é, contruindo identidades que são efetivamente racializadas para aqueles que vêm das antigas províncias ultramarinas, e ao mesmo tempo limitando a identidade portuguesa para aqueles que são fenotipicamente brancos.
Essa confusão é em grande parte por causa de adoção cega das normas e teorias pós-coloniais que foram desenvolvidas no contexto do Império Britânico. É preciso lembrar que o Império Britânico não estendeu a cidadania às populações sujeitas. Na ausência desta retórica, dado que a expansão britânica foi informada pelo racismo científico, a possibilidade mais atraente para os sujeitos membros das elites seria afirmar o direito a terem os seus próprios estados-nação. Seguir essa estratégia implicou que em vez de rejeitar a lógica do racismo, e exigir justiça dentro do império, eles estenderam a lógica do racismo. O caso português, porém, e precisamente devido à retórica do Império, e à longa história das relações entre a metrópole e as províncias ultramarinas, ofereceu-nos, e continua a oferecer-nos, uma outra possibilidade, a de exigir justiça entre relações imperiais. E ainda não é demasiado tarde para tratar desta questão da justiça, mas o primeiro passo tem que ser o do reconhecimento que a situação em Portugal era, e é, diferente, e marchar ao som das certezas anglófonas não é necessariamente uma solução para nós.
Neste momento devo realçar que não creio que Portugal não tenha sido marcado pelo racismo. E ainda, que sei que a situação em África não foi semelhante à de Goa, onde havia uma extensão em princípio da cidadania a todos. De facto, a situação em Goa poderia ser tão dramaticamente diferente que deveríamos estender este exemplo com grande cautela. Gostaria também de salientar que a retórica do Estado Novo, embora soasse radical, foi marcada por grande cinismo. A retórica que utilizou foi de facto fruto duma época anterior, onde as ideias universais da fé católica fundamentaram a criação duma identidade universal, neste caso impulsionado pela coroa portuguesa. Mas mesmo no Portugal moderno havia tendência para a exclusão racial. Mas atenção que não é necessário que ficamos presos com o reconhecimento que havia violência racista. Creio que enquanto reconhecemos que houve violência racista, deveríamos focar-nos na retórica que esteve presente e que facilitou, e de facto ainda nos facilita, a criação de possibilidade para a construção de um mundo diferente. Imaginem como fortaleceria uma pessoa não branca, que não cresceu na metrópole, afirmar que ele ou ela é português, enquanto pudesse afirmar outras identidades simultaneamente! É aqui que a assunto da justiça pós-colonial começa a ser afirmado.
Gostaria agora de examinar uma outra dimensão da relação entre Goa e Portugal. Notei há algum tempo que existem alguns Goeses quem têm uma noção fixa do que Portugal é. Na visão deles, é o Portugal metropolitano que decide o que é ser português e o que não é. Acho uma situação triste porque a relação entre Goa e Portugal nunca foi marcada simplesmente pela transferência da tecnologia ou da cultura. Os Goeses não se limitaram simplesmente a imitar cegamente os costumes metropolitanos. Ao contrário, Portugal foi um instrumento de um diálogo, como foi magnificamente mostrado pelo Paulo Varela Gomes no seu livro Whitewash, Red Stone (2011), onde o autor argumenta que as igrejas de Goa não são portuguesas, mas sim goesas. Ele aponta que estas igrejas resultaram dum processo de junção de elementos europeus para satisfazer necessidades locais dentro de um formato local. Podem parecer portuguesas, mas são de facto goesas. Claro que vou adicionar que Goanidade e Portugalidade não são identidades exclusivas, mas que uma informa a outra. Foi assim também nas outras esferas, catolicismo e os costumes europeus foram adotados para reclamar a cidadania. Atenção que os direitos da cidadania dos Goeses não foram simplesmente uma dádiva da metrópole. Ao contrário, foram resultado dos esforços Goeses seja no caso do famoso Bernardo Peres da Silva ou de outros deputados Goeses presentes nas cortes portugueses. É por causa desta luta através dos séculos que não podemos abandonar assim tão facilmente o assunto da cidadania goesa.
Se a conversa aqui se prende em como assegurar um futuro da relação entre Goa e Portugal, quais são então as medidas para realizá-lo? Acho que as iniciativas da metrópole devem cumprir o papel de facilitador nestas conversas maiores.
Gostaria de referenciar o Monte Music Festival, concetualizado, se não estou enganado, por Sérgio Mascarenhas, ex-Delegado da Fundação Oriente em Goa. No que já se tornou um ponto alto no calendário cultural goês organizado na Capela da Nossa Senhor do Monte em Velha Goa, a Fundação Oriente organiza um festival de música clássica indiana e europeia anualmente. Embora seja possível que esta combinação das artes indianas e europeias resulte da necessidade de enfrentar a hostilidade local a qualquer coisa portuguesa, o festival mostra que Portugal não é somente mensageiro duma Portugalidade estritamente imaginada, mas é, e sempre foi, um mensageiro de uma conversa alargada com a Europa e com o resto do mundo.
Já estou a sugerir, há algum tempo, que o Portugal metropolitano, não somente o estado, mas a sociedade civil também, deveria instituir bolsas destinadas a Goeses mais promissores, convidando-os a visitar Portugal para investir na sua formação ou por um alargado período do tempo. Basta ver o trabalho de Sonia Shirsat, que veio a Portugal para aprender o fado com essa ajuda e hoje está a produzir fadistas em Goa às dúzias! Também é crítico ajudar estes bolseiros a integrarem-se na sociedade portuguesa – que asseguro-vos não é uma tarefa fácil! Uma apreciação da sociedade portuguesa contemporânea é importantíssima para levar essa relação até ao futuro. É necessário, portanto que estas bolsas sejam acompanhadas por um processo de mentoria que permita que uma experiência singular se transforme numa relação mais prolongada, se não pelo resto da vida. Mas mais do que isso, é importante uma imersão na história e nas instituições deste país e no nosso passado comum, dado que muitos em Goa se encontram angustiadamente analfabetos sobre a nossa própria história, mais familiarizados com a história da Índia Britânica, ou com história vulgares de Goa.
Também creio que seja essencial para os Portugueses da metrópole voltar a Goa, e a outras lugares na Índia onde Portugal teve uma presença substancial. Como um padre português partilhou comigo há um mês atras, é só quando se vai a Goa que se percebe o que implica ser Português. Creio que não estava a dizer isto de uma maneira hiper nacionalista, orgulhoso das obras que nós fizemos lá, mas sim que se referia à complexidade do que significa ser português, que envolve mais do que ser de um país médio da União Europeia.
Neste contexto, gostaria de partilhar um argumento que desenvolvi sobre a identidade Sul-Asiática dos Portugueses. Refiro-me ao termo Namban, que se refere à arte nipónica durante o período de interação com os Portugueses. Namban, literalmente, significa bárbaro do sul. Qual é este sul, pergunto eu. Podia referir claro, o sul da Europa, mas prefiro achar que se refere ao sul da Ásia. E é esta Sul-Asianidade da identidade portuguesa que acho que os Portugueses visitantes devem tentar recuperar em vez de simplesmente chafurdar na grandeza dos monumentos, e procurar gente que fala a língua portuguesa. Preferia ver os metropolitanos aprender Concanim, Marata, Urdu, Malayalam. Demasiadas vezes a identidade portuguesa contemporânea se encontra obcecada em produzir os metropolitanos enquanto brancos e membros da União Europeia. Gostaria de salientar a obra de Sarah Ashby intitulada The Lusophone world: the evolution of portuguese national narratives (2017). Embora não tenha problemas com a União Europeia, e de facto acho uma grande ideia, uma aproximação à Europa não precisa de implicar um distanciamento de Portugal do nosso rico e complexo passado.
É obvio que Goa e Portugal têm um passado. Ambos os espaços influenciaram o outro, pelo que é impossível pensar um sem o outro. Mas será que têm um futuro? Enquanto creio que tenham, também sei que é necessário terem este futuro para conseguir sobreviver o que nós conhecemos enquanto Portugal e Goa. Porém, isto obriga a que tratemos de alguns assuntos: primeiro reconhecer a animosidade do estado indiano e a recusa a que os Goeses tenham cidadania portuguesa e indiana torna a sua presença no território uma imposição colonial. Segundo, assegurar que o estado português estenda determinantemente a mão aos Goeses com passaporte português não residente em Portugal. Terceiro, reconhecer que temos que investigar modelos pós-coloniais que falam à nossa experiência. Quatro, e último, iniciar intervenções estruturais que assegurem que há espaço para a continuação do diálogo entre Goa e Portugal.
Agradeço a vossa atenção e estou ansioso por ouvir os vossos comentários e reflexões.
(Gostaria agradacer os esforços da minha colega Joana Catela que ajudou-me em editar este texto.)
![]()